Este post faz parte da série “Indie no Cosmic Effect”
![]()

por Danilo Viana
Se você acompanha blogs, usuários do Twitter, perfis do Facebook ou qualquer outro conteúdo social associado a jogos eletrônicos, com certeza já ouviu um ou outro reclamar de uma suposta estagnação do mercado – jogos estão cada vez mais do mesmo e nenhuma inovação acontece já a algum tempo. Enquanto não se pode negar que os grandes blockbusters estão todos colhendo da mesma fonte, o mesmo não pode ser dito sobre as lojas online dos consoles atuais, destinadas a jogos mais simples – nestas lojas pipocam jogos criativos e tais lojas acabam se tornando o laboratório das empresas, locais onde é possível inovar sem o enorme comprometimento e investimento necessário para desenvolver os grandes lançamentos.
A mais nova feliz experiência da Ubisoft é Outland, um jogo definido perfeitamente como “Ikaruga de plataforma”. Para quem não conhece Ikaruga, trata-se de um shoot-em-up vertical onde sua nave possui dois “escudos” – um é branco (azul) e o outro preto (vermelho escuro) – e cada escudo é capaz apenas de defender sua nave de tiros da mesma cor, sendo atingido normalmente por tiros da cor oposta. Os inimigos também possuem estas cores e atirar neles com a cor oposta causa mais dano que o normal. O truque do jogo é trocar de escudo na hora certa, evitando ser atingido e tentando causar o máximo de dano nos inimigos trocando para a cor oposta.
Bom, este post é sobre Outland, então porque perder um parágrafo explicando como funciona Ikaruga? Se ler a explicação novamente, substituindo “shoot-em-up vertical” por “plataforma” e “Ikaruga” por “Outland” deixando todo o restante como está, você entendeu como funciona Outland.
 A história do jogo é simples, beirando a não existência. Você é um “herói” e o inimigo são as irmãs da criação. As irmãs são a deusa da luz e a deusa das sombras; elas criaram o mundo, mas foram aprisionadas não se sabe por quem ou por quê, e querem se vingar destruindo o mundo que elas próprias criaram. Sua missão como herói é impedir, fim. O enredo, de tão simples que é, novamente lembra os shot-em-ups. Embora seja possível apreciar sua simplicidade, os amantes de longos romances vão ficar na vontade aqui.
A história do jogo é simples, beirando a não existência. Você é um “herói” e o inimigo são as irmãs da criação. As irmãs são a deusa da luz e a deusa das sombras; elas criaram o mundo, mas foram aprisionadas não se sabe por quem ou por quê, e querem se vingar destruindo o mundo que elas próprias criaram. Sua missão como herói é impedir, fim. O enredo, de tão simples que é, novamente lembra os shot-em-ups. Embora seja possível apreciar sua simplicidade, os amantes de longos romances vão ficar na vontade aqui.
É na jogabilidade onde está toda a graça. Assim como sua contra-parte shooter vertical, em Outland você pode trocar de escudo e se defender de projéteis (e apenas projéteis) inimigos da mesma cor. Devido a esta mecânica, o jogo atira muito mais projéteis em você do que o padrão para um jogo de plataforma ,e com isso, por vezes você estará apertando o botão de trocar de escudo mais que o próprio botão de pulo. Some o fato de que existem plataformas e armadilhas que ativam e desativam baseado na cor de seu escudo e temos aí um prato cheio de jogabilidade para algumas horas.
A estrutura das fases de Outland segue a escola Metroid, com um grande mapa que pode ser explorado a vontade. Há teleportadores liberados mais a frente no jogo e a todo momento é possível consultar o mapa da área em que se encontra. Taí uma semelhança específica com Super Metroid, onde não é possível ver o mapa do jogo todo de vez, apenas da área atual; seria bem interessante se Outland funcionasse como Symphony of the Night neste aspecto, onde o mapa inteiro está disponível de vez.

Outland não é sem defeitos – para começar o jogo é estranhamente fácil apesar do bullet hell. Em Ikaruga as vidas são poucas e a nave é destruída com apenas um ataque, mas em Outland a energia é abundante, os checkpoints bem posicionados e as vidas ifinitas. Ser perfeito na troca do escudo não é tão importante e, às vezes, é mais fácil ser atingido e correr que se dar ao trabalho de trocar de escudo com perfeição. A exceção é nos chefes, que são divertidos e desafiantes, exigindo boa estratégia para serem vencidos.
Inclusive no departamento de chefes, Outland outra vez pede emprestado aos shooters um pouco de inspiração. Eles são enormes – alguns tendo várias “telas” de comprimento – e todos requerem uma estratégia diferente do simples acerte até morrer. A troca de escudos aqui é fundamental pois, diferente das fases normais, os chefes não têm checkpoints no meio da batalha. A punição por morrer é recomeçar todo o combate, como em todo bom shmup.
Outro “defeito” do jogo é sua curtísima duração, podendo ser vencido em cerca de 6 horas. Particularmente gosto da curta duração, pois estimula um replay rápido e descompromissado, mas é estranho que o jogo tenha sido estruturado como um “Metroidvania”. Há itens escondidos que dão mais energia e ataques mais fortes, mas há pouco incentivo à exploração. Se você seguir cada fase linearmente, dando apenas uma pequena explorada na tela em que esteja atualmente, é bem capaz de você chegar ao fim poderoso o suficiente para enfrentar o chefe final. Infelizmente aqui a oportunidade foi perdida – o jogo ficaria muito mais interessante se houvesse mais incentivo a exploração, com direito a bullet hells incríveis protegendo power-ups escondidos.
 Outland pode ser um jogo de plataforma 2D no melhor estilo retrogamer, mas no departamento gráfico ele é um jogo de “ultíssima” geração. O cenário é todo estilizado e o contraste entre as criaturas da escuridão e da luz cria uma harmonia quase que coreografada. O bullet hell também forma danças na tela no melhor estilo Ikaruga, chegando ao clímax nos momentos finais do jogo, onde sua cabeça vai dar uma volta tentando esquivar de todos os tiros.
Outland pode ser um jogo de plataforma 2D no melhor estilo retrogamer, mas no departamento gráfico ele é um jogo de “ultíssima” geração. O cenário é todo estilizado e o contraste entre as criaturas da escuridão e da luz cria uma harmonia quase que coreografada. O bullet hell também forma danças na tela no melhor estilo Ikaruga, chegando ao clímax nos momentos finais do jogo, onde sua cabeça vai dar uma volta tentando esquivar de todos os tiros.
No departamento sonoro o jogo é apenas mediano – o ponto alto é o som dos tiros, que ajuda a criar o efeito de coreografia. A música é apenas ambiente e os inimigos mal emitem sons, a não ser quando são atacados. No geral, o som do jogo não é ruim, mas não impressiona.
Outland é mais um membro do clube de jogos criativos, que conseguem misturar uma jogabilidade simples com um elemento novo obter destaque por isso. É uma pena que nos consoles estes jogos estão limitados as modalidades “arcade”, mas é ótimo que exista uma forma de desenvolvedoras arriscarem novas idéias sem precisarem falir. Nós, jogadores, só temos a lucrar com isso.
SCORE
GAMEPLAY: A estrela do jogo, quem diria que Ikaruga funcionaria como um platformer 5/5
GRÁFICOS: Para um jogo 2D os gráficos são impressionantes e, ainda assim, simples 5/5
SOM: Apenas o necessário 3/5
TRILHA SONORA: Novamente apenas o necessário, dificilmente vai figurar no Video Games Live 3/5
DIFICULDADE: Uma dificuldade maior caía bem, bullet hell não combina com vidas infinitas e checkpoints 3/5
DADOS
NOME: Outland
PLATAFORMA: Xbox 360, PS3
DISPONÍVEL EM: Xbox Live Arcade, PSN
DESENVOLVEDORA: Housrmarque
DISTRIBUIDORA: Ubisoft
ANO: 2011
* * *

Todos os jogos da série “Indie no Cosmic Effect” (até este artigo)
Jamestown: Legend Of The Lost Colony (PC) por Heider Carlos
Outland (XBLA) por Danilo Viana
VVVVVV (PC) por Émerson Watanabe
Filed under: Hoje, Série Indie | Tagged: arcade, bullethell, ikaruga, indie no cosmic effect, metroid, metroidvania, outland, Plataforma, shmup, super metroid, xbla, xbox 360 | 24 Comments »




 Apesar de conhecer Metroid do NES, só fui jogar por completo o Metroid Prime (o primeiro e parte do segundo) no Wii, da franquia Metroid. Fiquei completamente seduzido com a delícia que é a exploração neste game.
Apesar de conhecer Metroid do NES, só fui jogar por completo o Metroid Prime (o primeiro e parte do segundo) no Wii, da franquia Metroid. Fiquei completamente seduzido com a delícia que é a exploração neste game.




 Super Metroid são minimalistas na medida certa e, realmente, pega emprestado do clima de Alien.
Super Metroid são minimalistas na medida certa e, realmente, pega emprestado do clima de Alien. orgânicas e mecânicas no mesmo design.
orgânicas e mecânicas no mesmo design. fonte sob diversos aspectos.
fonte sob diversos aspectos.





 side scroller. Foi uma surpresa: logo que pensei em jogar Trine, seria o típico jogo em que o joystick do Xbox entraria em ação no PC.
side scroller. Foi uma surpresa: logo que pensei em jogar Trine, seria o típico jogo em que o joystick do Xbox entraria em ação no PC.


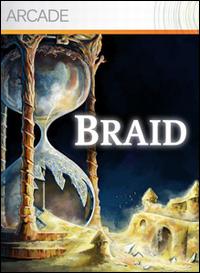 Não acreditam? Então talvez não tenham ouvido falar de Braid. Braid é um jogo criado em 2008 por Jonathan Blow – e não, ele não é o produtor, ele fez o jogo todo sozinho. E o que esse jogo tem de interessante? – você se pergunta. Simples: ele é um dos jogos de plataforma mais geniais já criados.
Não acreditam? Então talvez não tenham ouvido falar de Braid. Braid é um jogo criado em 2008 por Jonathan Blow – e não, ele não é o produtor, ele fez o jogo todo sozinho. E o que esse jogo tem de interessante? – você se pergunta. Simples: ele é um dos jogos de plataforma mais geniais já criados. Terceiro e por último, o jogo faz uma homenagem descarada aos jogos de plataforma do passado. Sei que isso não tem nada a ver com jogabilidade, mas é muito engraçado ver as referências óbvias e o jogo quase vale a pena ser jogado só por esse elemento. Feito para retrogamers.
Terceiro e por último, o jogo faz uma homenagem descarada aos jogos de plataforma do passado. Sei que isso não tem nada a ver com jogabilidade, mas é muito engraçado ver as referências óbvias e o jogo quase vale a pena ser jogado só por esse elemento. Feito para retrogamers. Começando pelo enredo – em P.B. Winterbottom, você é um baixinho narigudo que usa terno e chapéu e que tem como objetivo… roubar tortas. É isso mesmo, o senhor Winterbottom, astro do jogo, é um ladrão de tortas. Um belo dia ele encontrou uma “cronotorta”, uma torta que deu ao senhor Winterbottom poderes de controle no tempo (de novo?).
Começando pelo enredo – em P.B. Winterbottom, você é um baixinho narigudo que usa terno e chapéu e que tem como objetivo… roubar tortas. É isso mesmo, o senhor Winterbottom, astro do jogo, é um ladrão de tortas. Um belo dia ele encontrou uma “cronotorta”, uma torta que deu ao senhor Winterbottom poderes de controle no tempo (de novo?).